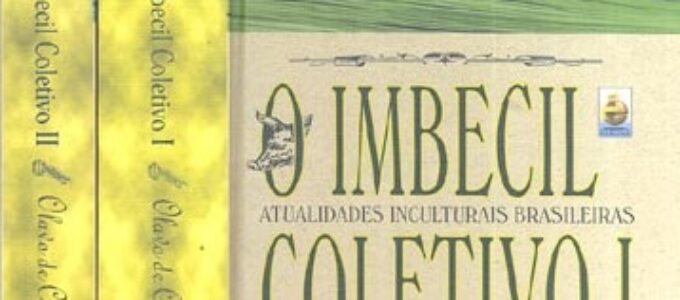
Olavo de Carvalho
Diário do Comércio, 23 de setembro de 2014
O traço estilístico mais constante e saliente nos escritos dos imbecis é a indistinção entre coisas objetivamente diferentes que têm o mesmo nome. Levado pelo potente automatismo da construção verbal separado da percepção, da memória e da imaginação, o sujeito extrai, de premissas referentes a um objeto, conclusões sobre outro objeto completamente diverso designado pela mesma palavra. Isso é o que propriamente se chama “equívoco”: tomar a identidade nominal como real. O estilo característico dos imbecis é um arquitetura de equívocos.
Desfazer um equívoco não é difícil. O problema com o imbecil é que ele não sabe que o é, nem imagina, pois, que deveria deixar de sê-lo; e os equívocos que comete são tantos e tão grosseiros que não é possível desfazê-los sem tornar evidente que o desempenho da sua inteligência está abaixo do normal – um dano à sua querida auto-imagem contra o qual ele se defenderá com todas as suas forças. A imbecilidade, como o segredo esotérico, protege-se a si mesma.
Pessoas normais podem superar seus erros porque apreciam a inteligência superior e desejam aprender com ela, ao passo que o imbecil genuíno não percebe superioridade nenhuma ou, quando a percebe, deseja achincalhá-la ou exorcizá-la para libertar-se de toda obrigação de melhorar.
O imbecil a que aqui me refiro não é o mesmo que o “imbecil coletivo” do qual falei outrora. Este, conforme o defini na ocasião, era “uma comunidade de pessoas de inteligência normal ou superior que se reúnem com o propósito de imbecilizar-se umas às outras”. Decorrida uma geração, o imbecil de agora já é o filho ou produto acabado do imbecil coletivo: não precisa imbecilizar-se porque imbecilizado está. Não tendo participado dos afazeres da alta cultura como o seu antepassado e mentor, nem procura macaquear o exercício da inteligência, porque o desconhece e não imagina em que possa consistir semelhante coisa.
Um exemplo irrisório, típico, veio-me de um rapaz que, diante da minha asserção de que a caça esportiva é hoje o meio mais eficaz de manter o equilíbrio entre as várias populações animais num dado território, proclamou indignado que, nos EUA, os caçadores extinguiram, no século 19, não sei quantas espécies de bichos.
A ira do cidadão contra o símbolo “caça” o impedia de ver que por trás desse nome se ocultavam duas atividades diferentes e antagônicas. Os homens que mataram lobos, ursos, raposas e bisões em quantidade descomunal e obscena, na época da ocupação do Oeste americano, eram eminentemente comerciantes de peles, que esfolavam os animais abatidos e saíam em busca de mais peles, deixando a carne apodrecendo sob a chuva e sob o sol.
Essa atividade, cujo análogo residual persiste na África sob a forma do comércio ilegal de marfim malgrado toda a repressão governamental, está rigorosamente excluída da caça esportiva tal como se pratica hoje no Ocidente. Aqui o caçador, ao abater um veado, um alce, um urso, está sobretudo em busca de algo que possa abastecer a sua geladeira, a de seus amigos ou a de alguma instituição de caridade, considerando a pele (ou os chifres) como um bônus ou troféu que atesta sua qualificação no exercício da tarefa.
Isso é assim não apenas por uma convenção unânime entre os caçadores, mas pela força das leis. Leis que não foram instituídas contra os caçadores, mas por eles mesmos e pelas organizações que os representam, e aliás por uma razão muito simples: o controle dos efeitos objetivos da ação humana sobre o meio natural é inerente a toda busca organizada de alimentos, seja na agricultura ou na caça.
Ninguém em seu juízo perfeito, muito menos um caçador esportivo, é louco de destruir as fontes do alimento que procura. Por isso mesmo é que a única exceção à caça como busca de alimentos é a liquidação de predadores que destroem fontes de alimentos. E é também por isso que as associações de caçadores têm sido, desde os tempos de Theodore Roosevelt, as maiores promotoras do conservacionismo.
Você pode, se quiser, chamar de “caça” essas duas atividades opostas: a do destruidor de espécies animais e a do caçador conservacionista de hoje em dia. Contudo, não pode, exceto por imbecilidade, aplicar ao segundo as conclusões daquilo que acha que sabe do primeiro. E, se o faz com eloquência indignada, só acrescenta à inépcia o ridículo da presunção.
A arte imbecil da conclusão equívoca tem ligação profunda e orgânica com outros dois fenômenos de patologia intelectual a que já me referi em artigos anteriores: a verbalização histérica e o pensamento metonímico.
A primeira consiste em o sujeito acreditar em algo, não porque o viu ou dele teve ciência, mas porque conseguiu dizê-lo e porque a mera forma gramatical da frase acabada tem para ele um valor de prova. O pensamento reduz-se, dessa maneira, à autopersuasão barata, em que a ênfase emocional postiça faz as vezes da convicção profunda e séria.
O vício do raciocínio metonímico consiste em tomar a parte pelo todo, ou o instrumento pela ação, mas enxergando aí uma identidade real em vez de uma mera figura de linguagem. No exemplo citado, a “caça” é tomada como sinônimo de “matar o animal”, quando, na realidade, o ato de matar é apenas o instrumento, o meio pelo qual se perfazem duas atividades objetivamente diversas e incompatíveis.